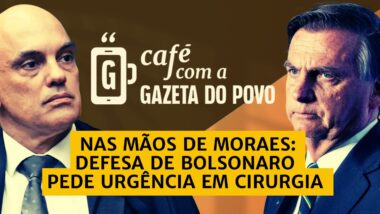Brasil, Belle Époque. A carruagem avança, pelas ruas do Rio de Janeiro, a caminho de uma das primeiras reuniões da Academia Brasileira de Letras. Em seu interior, o intelectual ajeita o monóculo e repassa o discurso que fará a seus pares. Elegantemente trajado e absolutamente tranquilo, observa a luz dos lampiões no calçamento, detectando, surpreso, a fagulha de inspiração para uma história. A arte, porém, deve ficar para depois por agora, que venha a consagração!
Não é difícil imaginar o Brasil do fim do século 19 a partir de uma narrativa como a que abre este ensaio. O ambiente, o personagem e até a instituição mencionada, a Academia Brasileira de Letras (ABL), são rapidamente assimilados e devolvidos como representação pelo imaginário do homem médio. Esse processo, porém, costuma incluir uma caprichosa nota racial: para a maioria das pessoas, nosso intelectual brasileiro da virada do século provavelmente seria um homem branco. Isso, a despeito de nosso maior literato, Machado de Assis fundador e primeiro presidente da ABL , ser negro, e de termos muitos outros intelectuais e artistas afrodescendentes no período e em épocas anteriores e posteriores.
Figuras como Lima Barreto, André e Antônio Rebouças, Luís Gama, Cruz e Souza, José do Patrocínio, Theodoro Sampaio, Milton Santos, Alberto Guerreiro Ramos, José Mauricio Nunes Garcia e João do Rio representantes negros ou mulatos de uma intelligentsia essencial à construção da identidade do país.
"Machado de Assis não é um negro, é um grego", disse Olavo Bilac do Bruxo do Cosme Velho. Em princípio, a frase comporta duas interpretações radicalmente opostas: pode ser lida como expressão abertamente racista, de negação da capacidade intelectual do negro, ou como manifestação da crença em que o talento se coloca além dos tons de pele, em uma espécie de "Arcádia" dos gênios. Em nosso contexto relativo às representações dos intelectuais negros brasileiros do fim do Império e das décadas seguintes , ela também simboliza a complexidade da discussão.
"Em relação à frase de Bilac, em especial no Brasil da passagem do século 19 para o século 20, as duas possibilidades de interpretação caminhavam juntas, mesmo sendo dicotômicas", diz o pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná (NEAB-UFPR) e doutorando em História pela instituição, Hilton Costa. Isso porque, segundo ele, o contexto da época era ambíguo em relação ao lugar do negro na sociedade.
"Ao contrário do que poderíamos imaginar, muitos dos intelectuais da época eram tratados efetivamente como negros ou seja, com preconceito e seu talento pouco representava em relação à superação do problema. Depoimentos como os de Lima Barreto e Cruz e Souza (o primeiro, mulato; o segundo, negro) são evidentes nesse sentido. Ambos tiveram sua ascensão intelectual interrompida ou prejudicada pela condição racial."
Ao mesmo tempo, porém, outros personagens negros ou mulatos não enfrentavam tantas dificuldades. O melhor exemplo é o do próprio Machado de Assis, que foi amplamente reconhecido em vida, mesmo a despeito de sua origem racial e social (ele era filho de um operário). "Tudo dependia das redes de relações que cada indivíduo tecia, que podiam ou não atenuar sua condição racial", observa Hilton.
À brasileira
As redes apontadas por Hilton Costa colocam a escravidão e o racismo brasileiros em um nível diferente do vivido nos Estados Unidos e na África do Sul. Nesses países vigorava a "barreira de cor", forma institucional de segregação que tinha na separação material e na negação explícita de direitos seus princípios. "No Brasil, os mecanismos de segregação ou aceitação racial sempre foram, ao mesmo tempo, genéricos e individuais", diz Hilton.
Em outras palavras: dependendo das relações pessoais, da condição social e, em alguns casos, do parentesco, o negro ou mestiço poderia ser classificado como "negro", "mulato", "moreno" ou até "branco" ainda que seu fenótipo apontasse para outra direção.
Em uma primeira leitura, essa leniência em relação à questão racial parece colocar o Brasil em uma situação mais "humana". Ledo engano. A aplicação da cordialidade apontada por Sérgio Buarque de Holanda e do "jeitinho brasileiro" às relações raciais no país apenas demonstra o grau de especialização do nosso racismo. "A Sociologia brasileira, em especial a produzida a partir dos anos 50, identificou nessa leniência o caráter mais insidioso da nossa escravidão. Que foi uma instituição total", observa Alexandro Trindade, doutor em Sociologia pela Unicamp (com uma tese sobre o engenheiro negro André Rebouças) e professor da Universidade Federal do Paraná.
Segundo Trindade, para compreender a configuração dos intelectuais negros brasileiros do período é preciso conhecer a estrutura da sociedade escravista brasileira. "Lembrando Florestan Fernandes, podemos afirmar que essa sociedade era uma mescla de estamentos e castas", explica. Ao mesmo tempo em que havia um corte racial profundo uma demarcação clara entre a casta dos escravos e a dos homens livres , os escravos podiam ocupar posições diferentes na sociedade.
"Na verdade, o Brasil comportou várias formas de escravidão. Uma coisa é a chamada 'escravidão do eito', da grande lavoura, outra coisa é a escravidão doméstica, a chamada 'escravidão de ganho'. Cada uma dessas formas, assim como a posição social do dono do escravo, poderia determinar o locus do indivíduo. Havia, portanto, uma espécie de 'mobilidade social' entre os escravos, que permitia posições diferenciadas nessa estrutura."
Essa possibilidade de ascensão social percebida por Joaquim Nabuco como típica do "caráter elástico" de nossa escravidão colaborava para que não se instalasse o clima necessário para grandes rebeliões de escravos. "Tivemos revoltas importantes, como a dos malês (negros muçulmanos) em Salvador no ano de 1835. Elas, porém, parecem não ter constituído um projeto político contra a escravidão", analisa Trindade.