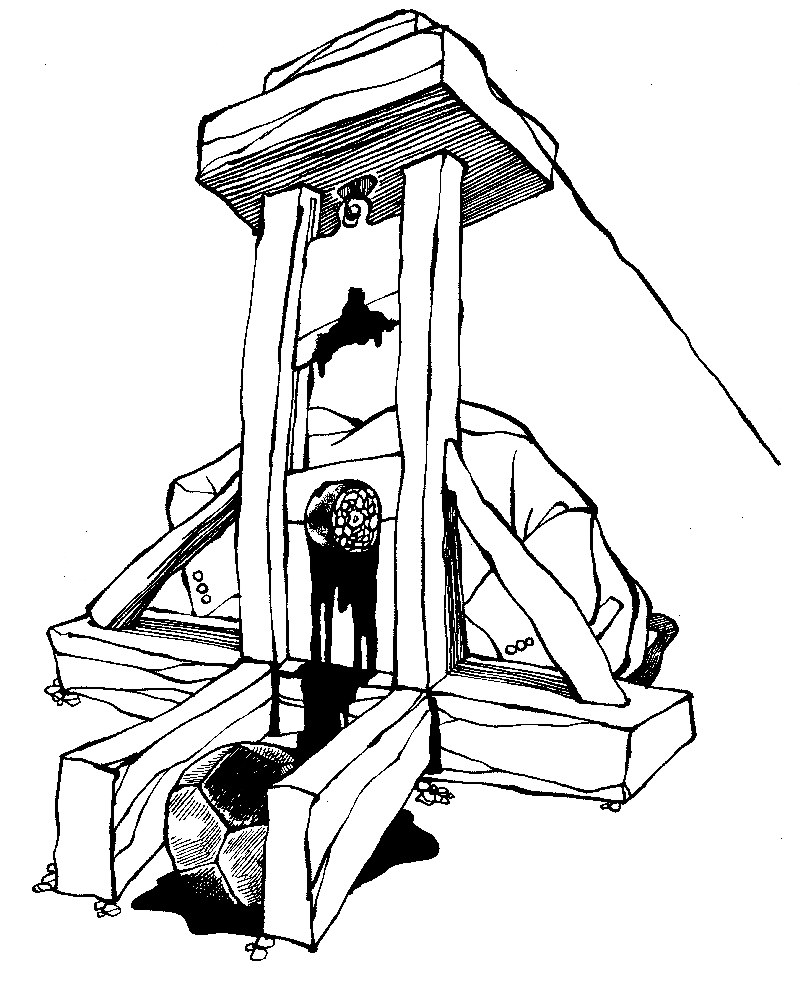
A fictícia Belíndia criada por Edmar Bacha nos anos 1970, para resumir as desigualdades econômicas e sociais do Brasil, estava bem viva diante dos olhos em Fortaleza, naquele 19 de junho. A metade indiana separada da belga por exatos 7 quilômetros, distância percorrida para ir da manifestação contra tudo até a porta do Estádio Castelão, onde a seleção brasileira enfrentaria o México, pela Copa das Confederações.
O uniforme dos grupos era basicamente o mesmo. Camisa da seleção, calção, bermuda e chinelo para enfrentar o calor; bandeira nacional às costas complementando o figurino. Tudo mais era distinto. Biotipo: brancos e bem-nutridos de um lado; negros, pardos, vermelhos e amarelos, não necessariamente bem-nutridos, do outro. Transporte para chegar até ali: carro ou táxi; ônibus ou bicicleta. Palavras de ordem: "Neymar!", "Fred!" e "Lucas!" na Bel; "Saúde!", "Educação!" e "Fora, Fifa!" na Índia.
O traço comum era o desejo de ver a seleção brasileira. Algo aparentemente óbvio para quem tinha um ingresso na mão e peregrinava alegremente pelo corredor animado por bandas de forró até a porta do estádio. Mas relativamente surpreendente do lado dos manifestantes.
A frustração por não poder ver a seleção de perto era o vetor de toda aquela mobilização. O sofrimento diário para conseguir uma consulta em hospital público, para receber um ensino adequado em escola do governo, para ir ao trabalho no ônibus sucateado e por vias esburacadas, porque o dinheiro da reforma foi desviado por corruptos, ou para sair de casa sem medo da violência criou um ambiente de insatisfação, um rastilho de pólvora à espera de uma fagulha. A faísca surgiu quando ficou claro que a solução de todos esses problemas havia ficado em segundo plano para organizar uma Copa, paga com o dinheiro do contribuinte, e que acabaria criando uma seleção social de quem teria ou não acesso aos estádios. Era o tapa na cara que faltava para muita gente atender ao grito de "Vem pra rua!".
Apesar de toda a indignação, o carinho pela seleção permaneceu inabalado. Sinal de que mesmo o perfil de quem se opõe ao sistema mudou. Em 2001, sob a ameaça de o Brasil não passar das Eliminatórias e, pela primeira vez, ficar fora de uma Copa do Mundo, Fernando Gabeira e Roberto Freire foram entrevistados pela Folha de S.Paulo, para dizer se mantinham o mesmo sentimento antisseleção dos tempos de luta contra a ditadura militar.
Freire contou que na sua casa só tinha comunista torcendo contra Pelé, Tostão, Rivelino e Jairzinho. Gabeira admitiu que, à medida que o time foi avançando com um futebol deslumbrante na Copa de 70, foi se tornando impossível não vibrar com aquela seleção. O temor era de que o presidente Médici usasse o tricampeonato politicamente. O Brasil foi tri, Médici entrou em rede de rádio após a final para dizer que havia acertado o placar do jogo com a Itália e o país passou mais uma década e meia nas mãos dos militares.
Separação
Hoje, talvez apenas uma minoria mais radical faça essa associação direta entre vencer a Copa e acobertar as mazelas no país. Mesmo com a propaganda oficial do Mundial resgatando o slogan "A Pátria de Chuteiras" do militarismo, o futebol dentro de campo e o social estão bem separados por quem vai à luta nas ruas.
Quem efetivamente calça as chuteiras da pátria também mudou. A histórica alienação dos jogadores ao que acontece no país perdeu alguns bons argumentos durante a Copa das Confederações. Tão arrepiante quanto o Hino Nacional cantado por 70 mil vozes no Maracanã foi ver a comoção dos jogadores abraçados e olhos umedecidos engrossando aos urros o coro à capela que vinha das arquibancadas. A multirracial França campeã de 1998 havia feito algo parecido com a Marselhesa. Era o recado velado de que era possível o negro, o árabe e o francês nativo levarem, juntos, o país para a frente.
A seleção brasileira atual transmite um recado similar. Há os nordestinos Hulk e Daniel Alves, o loiro David Luiz, o carioca da praia Júlio César, o carioca do morro Marcelo, o negro Luiz Gustavo, o branco Oscar. Mas há, acima de tudo, um grupo de brasileiros que invariavelmente saiu de baixo para construir uma vida melhor com o próprio trabalho, a oportunidade que cada pessoa segurando uma faixa do lado de fora do estádio também espera.
A dois dias do jogo com o México, a seleção brasileira falou pela primeira vez das manifestações nas ruas. Antes de virem a público, as opiniões diversas já monopolizavam as rodas de conversa no refeitório e nos quartos da concentração. Hulk admitiu a vontade de ir para as ruas. Neymar, David Luiz e Daniel Alves deram eco às mesmas bandeiras dos manifestantes.
Pode parecer ingenuidade, mas não vejo essa reação como marketing. Todos, em algum momento da vida, sofreram com os mesmos problemas que deram tanta musculatura aos atos populares. Sabem como todo o brasileiro como é dura a vida na Índia. E percorreram como poucos, de forma honesta e com muito suor, o caminho até a confortável Bélgica.



