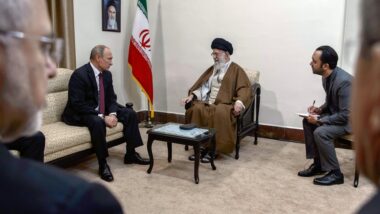Há exatos dez dias, a professora de Inglês Ana Paula Marino César, 37 anos, levou uma série de golpes de faca, desferidos por um aluno adolescente. O episódio se deu no Colégio Estadual Ivanete Martins de Souza, em Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba. A agressão pautou os meios de comunicação e mobilizou os circuitos acadêmicos nos quais pesquisas das relações entre ensino e violência gozam de poucos adeptos. A carência de estudiosos sobre o assunto é um dos paradoxos brasileiros: as agressões "atrás dos muros da escola" incomodam muito e, pelo visto, interessam pouco.
SLIDESHOW: Veja o que pensam os pesquisadores
Araci Asinelli da Luz e Josafá Moreira da Cunha, ambos da UFPR; e Luciano Blasius, da Academia Militar do Guatupê, são exceções à regra. Por força do ofício, não vão deixar o episódio das facadas ficar reduzido a um rodapé da crônica policial. Querem estudá-lo, pelo impacto que provocou e por ser representativo de uma sina que ronda a escola: a de ser vista como espaço do medo, uma bomba em vias de explodir.
As poucas estatísticas disponíveis oriundas da chamada "Patrulha Escolar", parecem confirmar o senso comum de que a escola é violenta. Ano passado foram registrados 734 casos de agressão entre alunos; 55 episódios de agressão de alunos contra professores; 45 ocorrências de uso de arma branca; 5 casos de homicídio. Mas alto lá. O bullying visto por especialistas como gatilho por excelência da agressividade no ambiente escolar recebeu apenas 12 notificações. Alguma coisa está fora de ordem. "Temos um vazio de dados. No dia seguinte às facadas, a preocupação era com o resultado do Ideb. Precisamos gerar mais dados sobre o clima relacional no sistema de ensino. Isso importa tanto quanto notas", reivindica Josafá.
Em concordância na maioria dos pontos, os três analistas entendem que a escola precisa aprender a mediar conflitos a começar dos pequenos. Fixados no resultado, nas metas, no sucesso, os centros de formação tendem a subestimar a importância da convivência. Se há algum remédio, segundo Araci ele se chama "gestão do cuidado", uma espécie de "política do afeto", cujos efeitos são flagrantes. "Inclui cantar Parabéns e chamar à responsabilidade". No que seus pares concordam. Para eles, escola violenta não é a das manchetes, mas aquela em que há pouco interesse pelo outro. Eis o ponto.
Autogestão
É mais complicado do que organizar uma gincana escolar
O capitão Luciano Blasius, 40 anos, integra uma espécie de tropa de elite da Polícia Militar do Paraná a tropa dos oficiais que decidiram investir em altos estudos acadêmicos. Em março deste ano, concluiu seu doutorado no setor de Educação da UFPR. A pesquisa que apresentou não podia ser mais pertinente: fez 37 entrevistas em profundidade com PMs ligados ao BPMEC Batalhão de Polícia Militar Escolar Comunitária. Sua intenção, levantar como esses homens entendem ou, não raro, legitimam a violência escolar.
Matou dois coelhos. Ao mesmo tempo que trata de uma imagem algo desconfortável a do policial dentro da escola , Blasius mexe com outra relação delicada: a escola, que se coloca como vítima da violência, também pode ser sua causadora. É de tremer o chão. Muitos educadores se dizem alvos fáceis de agressão por parte dos alunos, mas poucos assumem sua parcela de culpa. A resistência é simples de explicar: ao se admitir como parte do problema, os educadores se veem à espreita de mais uma responsabilidade. E não se trata de organizar uma gincana, mas de desatar nós do dilema mais complexo da sociedade contemporânea.
"Eles se sentem impotentes. Mas não tem receita: cada escola vai ter de lidar com sua realidade", pondera o homem de voz pausada, coordenador pedagógico da Academia Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, onde estudam 700 PMs. É possível imaginar o impacto de suas falas junto aos aspirantes. Na contramão da tradição hierárquica da corporação, Blasius aponta protagonismo juvenil como saída possível.
"Defendo a autogestão dos alunos. A escola é o local ideal para exercitarem sua capacidade de reagir à violência", afirma, com a experiência de quem acompanhou um sem número de colégios em duas décadas de corporação. Nesse tempo, viu erros se repetirem. Um em especial: a tolerância com a chamada "violência simbólica", aquela "coisa pouca" que precede as agressões extremadas. "Em nome da urgência de repassar o conteúdo, a escola prefere fechar os olhos para as pequenas incivilidades. De que adianta formar um engenheiro que vai construir uma câmara de gás", provoca.
Afeto
Chega de saudade do velho Código de Menores
A pesquisadora Araci Asinelli da Luz, do Setor de Educação da UFPR, se tornou uma referência nacional em estudos de violência escolar. Em paralelo às dissertações e teses que orienta o bastante para formar uma suma pedagógica da área , conta em seu currículo a radicalidade com que abraçou a tese da "proteção integral", expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Nem sempre recolhe flores por seu envolvimento. "Temo por esse menino", diz, ao se referir ao estudante que agrediu a educadora de Piraquara. "O primeiro julgamento foi de caráter hierárquico onde já se viu? Mas alguém tem de perguntar quem é esse aluno; qual a concepção de educação dessa escola", enumera.
Sabe que acaba de colocar a mão na cumbuca. Primeiro na da imprensa que a seu ver tratou o assunto com sensacionalismo, mostrando a agressão pontual como se fosse um fato do cotidiano. Em vez de esclarecer, a mídia teria preferido provocar convulsões num debate que beira a esquizofrenia.
Em seguida, alveja as instituições de ensino superior. Os comitês de ética com suas exigências de autorizações por escrito, prática emprestada da área da saúde retardam cada vez mais as pesquisas em educação ao dificultar o acesso aos adolescentes, seus familiares e seus educadores. "Não temos mais como esperar tanto", critica, agora, diante de um argumento irrefutável. É gritante a falta de dados e análises sobre pequenas e grandes agressões no ambiente escolar. Para a pesquisadora, a violência é vista como "algo de fora", mas brota das relações interpessoais no interior das instituições de ensino.
A última consideração vai para a própria escola, que tem dificuldade de se reconhecer em meio a esse debate. "Os professores se comportam como espectadores", pontua Araci. Para entender a parte que lhe cabe, afirma, precisam abrir mão da crença de lugar sagrado, inquestionável, degrau para que as pessoas se tornem "alguém na vida"; e admitir de fato que a criança e o adolescente são "sujeitos de direito". "Minha hipótese é que muitos educadores sentem saudade do Código de Menores. Preferiam aquele tempo do professor poderoso e do aluno passivo, que não questionava e podia ser expulso."
Escola do medo?
Onde diziam existir violência havia curiosidade juvenil
O psicólogo Josafá Moreira da Cunha, 35 anos, costuma ser chamado para mediar conflitos em instituições educacionais. É especialista em bullying. Vai com prazer. Uma delas assolada por uma grande evasão de alunos apareceu na manchete dos jornais com o título "Escola do medo". Hoje acha graça. Deveria ter sido chamada de "Escola da Esperança", devolve, ao relatar que os poucos estudantes que encontrou nada tinham de violentos. Pelo contrário eram resistentes, ou resilientes, como se diz. Desafiavam o que tinha dado errado, curiosos, gozando de seu direito de ser jovem, mesmo morando numa zona de criminalidade alta. "Por que só contamos a história dessas escolas quando chegam a extremos, como no caso das facadas?"
A pergunta tem tudo a ver com Josafá. Embora seja conhecido como um pesquisador de violência na escola atua no Setor de Educação da UFPR bem poderia ser lembrado pelo seu contrário. Anos atrás, esteve no Canadá, estudando um tema pouco habitual, como a amizade entre adolescentes. Fez estágios em escolas americanas mas não em busca de gente capaz de dar tiros em Columbine. Os relatos que conta são de redenção e os recolhe em lugares mais inesperados. Até junto a adolescentes em situação de rua encontrou narrativas de construção da felicidade. Quem acha que muitas escolas são antessalas de uma chacina tende a mudar de ideia em 30 minutos de conversa com esse entusiasta do chamado "desenvolvimento positivo", um termo autoexplicativo.
Pergunta-se, por exemplo, se o "menino da faca" teve suas habilidades promovidas. E se alista entre os que querem estudar o já chamado de "caso de Piraquara". "Sabe aquele episódio da prisão de Abu Ghraib? Pois é, aquelas pessoas descritas como monstros fizeram o que se esperava delas naquele ambiente", provoca, para dizer que muito do que se chama de tragédia da violência escolar sem desconsiderar a dor de situações como a vivida faz poucos dias é parte da miopia a que estamos sujeitos. "Procuramos vilões", observa Josafá, desafiando a quem quer que seja a, antes de mais nada, entender como se formam as redes de violência na escola, na família, na comunidade. A rede pode estar num grito permitido em sala de aula. Ou numa lista de regras educacionais não cumpridas. Fica a dica.