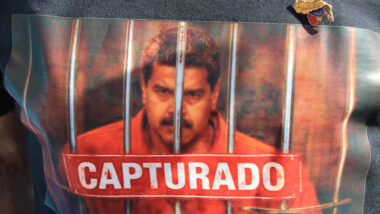Uma revista me perguntou quais meus planos para o ano de 2007. Respondi qualquer coisa que agora não me vem à memória. Mas tenho um grande objetivo para este ano. Uma coisa que não cabe em minha agenda; para realizá-la terei que aproveitar cada momento livre, levantando ainda mais cedo sou um madrugador incorrigível. É algo tão grandioso que temo divulgar. Vá lá: gostaria de ler as mais de 1.600 páginas dos diários de Adolfo Bioy Casares sobre outro escritor argentino contemporâneo seu Borges (Buenos Aires: Destino, 2006). Talvez seja a obra mais importante publicada no Ocidente no ano que passou dá conta dos comentários dos dois amigos, que se viram regularmente de 1931 até 1986, registrados pelo mais novo deles. Tem sido meu pós-doutorado em literatura e eu o faço sem licença, sem bolsa, mas também sem stress.
São leituras homeopáticas as minhas, pois há uma quantidade muito grande de material para reflexão. Nesta semana, chamou-me a atenção uma pequena passagem de 7 de outubro de 1956. Era um domingo.
Borges conta a Bioy que estava no metrô quando ouve uma criança falar. É um menino que se locomove com os pais, e lhes pergunta:
Quanto falta para Palermo?
Os pais o ignoram, continuam sua conversa, indiferentes à curiosidade da criança que quer chegar logo ao destino, impaciente com a viagem subterrânea. Como toda criança, ela é insistente e pergunta de forma mais enfática:
Quanto falta?
O desprezo de seus pais permanece. O menino sabe que eles não lhe darão a menor atenção. Poderia ficar triste, mas o menino ri e tenta novamente:
Quanto flauta para Palermo?
Diante da barreira de comunicação, o menino resolve transformar o que era uma curiosidade em jogo e faz a troca da palavra falta (de caráter negativo) por flauta (altamente positiva), criando certo nonsense, que lhe dá alegria. E logo dirá:
Quanta flauta?
Constituindo assim um universo imaginário.
Ele se diverte com sua flauta feita de palavras, com o uso musical da língua, já totalmente esquecido da pergunta inicial.
Borges não consegue ver o menino já estava com as vistas praticamente inválidas, mas o admira por ele estar fazendo a passagem da linguagem informativa para a lúdica. O desejo de interação se vê substituído pelo desejo de diversão.
Os comentários de Jorge Luis Borges são certeiros. Aquele "era um momento importantíssimo em sua vida [na do menino]. Estava descobrindo que havia palavras parecidas e que colocá-las juntas era algo divertido. Não: era muito mais estava descobrindo a literatura" (p.219). Esta observação aponta para algumas questões.
A literatura é sempre uma atividade solitária. Nos seus domínios, a linguagem não tem a função interativa como prioridade, não serve apenas para nos colocar em contato com o mundo imediato, credenciando-nos para situações comunicativas. É algo totalmente independente do meio. O menino não consegue obter uma resposta, mas ela já não tem o menor valor. Ele se delicia com as variações que a língua permite, fazendo um uso pessoal dela, sem nenhuma utilidade, apenas pelo prazer gratuito de dizer.
O uso literário da língua terá sempre uma tendência para a deformação. Aprender a usar a linguagem corrente garante uma comunicação sem maiores turbulências, mas a sua versão literária introduz elementos que não estão a serviço de uma expressão racional, e sim passional. A língua, antes mera ferramenta, agora é música. O menino toca sua flauta no metrô, não participa do que ocorre num lugar monótono e cria algo inusitado, forjando uma bolha artística, em que a diversão vem de si mesmo, de seu poder de tirar de um instrumento interiorizado uma melodia qualquer.
É literária a relação com a linguagem quando ela nos possibilita uma satisfação pessoal, independente da validação coletiva. O menino não encontra ressonância para suas perguntas, mas enche o metrô com sons de flauta, e a viagem rotineira e enfadonha se torna um momento mágico.
O contato com a literatura que não permitir esse desvio da língua e da realidade será sempre inócuo. É mais um falar sobre literatura do que uma experiência literária vivenciada. A escola deve estar atenta a esses momentos de descobertas, quando a criança passa do uso aplicado da língua para o criativo.
Na minha própria trajetória, houve um processo parecido. Vim de uma família onde as crianças não tinham direito a voz. Por mais que perguntássemos algo aos adultos, eles ou desconversavam ou simplesmente silenciavam. Meu padrasto mesmo achava quase um insulto que os filhos se dirigissem a ele em público, era um homem sério demais para dar ouvidos à curiosidade infantil. Por mais que eu perguntasse algo, ele não respondia, nem me olhava. A língua como barreira, como um país distante.
Minha mãe exercia outra forma de autoritarismo. Ela se desligava das conversas e apenas contava as histórias dela. Histórias longas e cheias de detalhes, que nos encantavam, dela herdei o dom narrativo, mas não havia brechas para nós. Éramos mais ouvintes de seus casos.
Assim, fui criado num exílio comunicativo, pois na escola, durante a ditadura militar, pequeno era o espaço para expressão individual. O sentimento de exílio na linguagem deve ter contribuído para que eu me encaminhasse definitivamente para a literatura, que figurou como um território à parte, onde as palavras estavam a meu serviço e eu podia ordená-las ou desordená-las a todo momento.
Quando ouço falar que a função de um texto literário é permitir que os alunos se relacionem melhor na sociedade, fico um tanto assustado. A linguagem não pode ficar restrita à funcionalidade, ela é mais do que ferramenta, é também o caminho para a alegria conquistada solitariamente.
Sonho com uma escola onde os alunos possam fazer soar a flauta da linguagem.