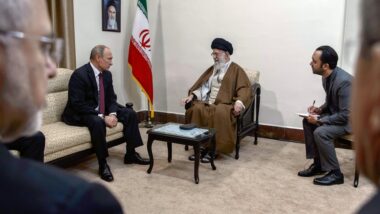A fotógrafa londrinense Fernanda Magalhães tem 48 anos e 115 quilos. Seu manequim é 56. E esses dados todos que qualquer mulher confidenciaria apenas numa reportagem sobre como perdeu meia tonelada saem de sua boca com a naturalidade de quem dá "bom dia". Há mesmo quem se sinta ultrajado com sua franqueza, de endócrinos a cultores da magreza de passarela.
Fernanda sempre foi gorda. Padeceu os infernos por causa disso, até retratar o próprio corpo, em meados da década de 1990, produzindo o que já pode ser chamado de um clássico das artes visuais no Brasil a série A Representação da mulher gorda e nua na fotografia.
Prova disso é que mesmo sendo dona de um respeitável catálogo artístico, continua sendo convidada a expor e a falar sobre as imagens que a apresentaram ao circuito de arte, ganhando mostras em incontáveis pontos do planeta, de Miraflores no Peru à Finlândia. Em outubro deste ano, por exemplo, "a mulher gorda" será mostrada no respeitável Maison Européenne de la Photografie, em Paris. "Mas continuo uma maldita. Ninguém quer ter uma imagem dessas em cima do sofá", brinca a artista.
Magalhães vive numa pequena chácara nos arredores da cidade onde nasceu. É professora doutora da Universidade Estadual de Londrina e se integra ao rol de pesquisadores brasileiros que fazem dos estudos de gênero um sopro de vida em meio ao mofo acadêmico.
Na entrevista que segue, dada em sua casa, falou do pai, o ativista cultural Vilela, sua maior influência; de câncer; cirurgia bariátrica e, claro, de como a menina que corria dos colegas que a chamavam de "baleia" fez de um trauma infantil um contundente discurso libertário. "A gordura é transgressora", provoca.
Você sempre foi gorda?
Redondinha. Arredondada. Nada muito absurdo, assim como minha família inteira, do pai e do lado de mãe.
E na escola?
Na escola tinha essa coisa de chamar de "gorda baleia saco de areia". Corriam atrás de mim nas ruas...
Nas ruas?
Sim, naquela brincadeira de bola queimada. Gritavam "pega a baleia, pega o saco de areia..." Na escola já havia discriminação, tudo muito velado, mas que se manifestava nas brincadeiras em grupo quando me chamavam de "gorda baleia saco de areia" e coisas assim. Isso era bullying, mas naquela época não tinha este nome.
Como você reagia?
Meu mecanismo era não ligar. Eu sofria exclusão, horrores. Muitas meninas não andavam comigo. Com o tempo, fiquei passiva. Cheguei ao extremo de nem perceber o que acontecia. Mais tarde, explodiu.
Quando foi?
Em 1993, fui morar no Rio de Janeiro. Lá comecei a recuperar essas dores...
Numa temporada de estudos, é isso...
Sim. Àquela altura, eu já fotografava pessoas nuas. Mas no Rio havia aquele culto às formas, ao corpo perfeito. Aquilo me pegava. Até que num curso, em Niterói, o Pedro Vasques pediu que fizéssemos um ensaio fotográfico bem pessoal, um autorretrato. Foi a partir deste primeiro autorretrato que fui entendendo todas estas questões que estavam dentro de mim. Elas extravasaram ali.
E o que acontecia?
Existia uma vergonha em relação ao corpo e em expor os sentimentos deste corpo. Este era um assunto tabu, falar de gordura significava falar de dietas. O primeiro autorretrato foi uma forma de gritar: "Oi, eu existo. Essa sou eu. Sou assim. E aí? Tenho de ser excluída da sociedade porque tenho essa forma?"
Fale sobre o autorretrato...
Foi um processo, fiz as fotos nua, mas não foi fácil encarar o corpo nu, as curvas e dobras. As imagens me incomodavam e resolvi recortar, retirar partes, fragmentar este corpo e guardava todos estes recortes numa caixinha. Depois, fui juntando as partes recortadas com fundos, papéis coloridos e fragmentos de minhas memórias na cidade do Rio, como passagens de ônibus, recortes de jornais e papéis de bala. Minha tentativa era de construir novas representações para este corpo e esta série acabou me levando à série A Representação da Mulher Gorda Nua na Fotografia.
... um trabalho que lançou você no circuito das artes. Foi bom?
Mulher gorda e nua... houve uma curiosidade, claro. Mas meu circuito era o alternativo. Não tenho galeria em São Paulo. Praticamente não vendo meu trabalho ou vendo muito pouco. Quem é que vai querer colocar uma foto de uma mulher nua, gorda, em cima do sofá? Quase ninguém, com exceção de poucos interessados ou alguns colecionadores. Já participei do Panorama da Arte Brasileira, e outras exposições importantes, mas nunca estive numa Bienal. Vou expor em Paris em outubro, mas acho que de alguma forma continuo maldita.
Fernanda, mas o que não lhe falta é reconhecimento...
Sim, tenho tido um retorno enorme, primeiro do público que vai às exposições, o que sempre me emociona muito, e agora todos falam do trabalho como inovador, transgressor, corajoso e maduro. Enfim assimilam o trabalho. Tem horas que fico me perguntando como persisti tanto, já são 18 anos de produção.
As fotos da Fernanda gorda e nua não acabaram reduzindo sua produção a um tema?
O tema não me prendeu, me libertou. E libertou muita gente. Minha produção toca feridas. A crítica de arte pode até, em alguns casos, não gostar muito do que faço. Já não posso dizer o mesmo das pessoas que vão às exposições. Muitas mulheres me agradecem, dizem que passaram a se dar o direito de pôr um biquíni na piscina. Além do mais, extrapolei a obesidade e passei a pensar na mulher, em gênero, em diversidade. A obesidade acabou se tornando para mim uma questão política. Fiz o doutorado abordando estes assuntos com a produção de um trabalho performático, visual e reflexivo. Me interessa saber por que estamos correndo atrás de um corpo idealizado. Tem a ver com controle e poder. Todos sofrem com esta ditadura, todos os corpos, as mulheres magras e as gordas. E para além destes trabalhos tenho ainda outras tantas produções que dialogam com minhas propostas, mas expandem para outras novas reflexões.
Até os magras sofrem...
Sofrem. O corpo perfeito, não existe. Aquele corpo que a gente considera na medida já passou, sei lá, por 19 cirurgias. Nos quase 20 anos em que lido com isso acabei fazendo muitas conferências, palestras, bate-papo. Ouço depoimentos pesados. Há meninas lindas com compulsão por cirurgias. Nunca se sentem no padrão ditado pela publicidade e pela moda. Correm atrás de um corpo cada vez mais plástico e infantil.
Você já pensou em reduzir o estômago?
Penso sempre, como uma forma de não ficar fechada em conceitos, tenho necessidade de refletir sobre todas as possibilidades, mas sei que eu nunca vou me submeter à redução do estomago. Para mim não é a solução, porque eu não preciso de solução. Meu corpo é esse. Os médicos podem dizer que tenho corpo fora do padrão. Bom, uma multidão está fora do padrão, né.
Em que você é contra a cirurgia?
Não sou contra qualquer tipo de cirurgia. Sou contra o excesso de consumo. Contra a manipulação. Contra a ilusão que essa intervenção cria. Tenho visto o descontentamento de muita gente que fez redução de estômago. Já ouvi coisas do gênero: "Eu odeio meu corpo. Não ficou como eu queria..." Conheço uma ou outra pessoa que se deram muito bem com a cirurgia. Uma amiga recuperou a autoestima. Mas existem casos terríveis como pessoas que começaram a beber muito ou que entraram em estados depressivos, além de pessoas que desenvolveram outras doenças a partir da cirurgia bariátrica. Há muitos casos terríveis e alguns felizes. É necessário um tratamento e acompanhamento sério anterior a cirurgia e após ela também.
Os médicos não devem morrer de amores por você...
Recebi muitas ameaças de endócrinos. Eles me mandavam recados, dizendo: "Você está fazendo um desfavor à sociedade."
Você se sente bonita?
Como qualquer pessoa, em alguns dias me sinto bonita e em outros não. Tem dias em que me arrumo, me sinto linda. Noutros, me sinto péssima. A questão está relacionada ao seu bem-estar interior. A beleza não está na superfície, não adianta ficar buscando um corpo idealizado, pois ele não existe. É importante aceitar seu corpo, gostar e cuidar dele. Eu me alimento naturalmente, faço minhas atividades físicas e há anos não tomo refrigerantes. Claro que gostaria de ficar com uns quilos a menos, mas nada muito radical. Afinal, adoro dançar e criar um visual diferente.
A quem você deve a pessoa que é?
Ao meu pai e minha mãe. Meu pai, Antônio Vilela de Magalhães, o Vilela, foi meu primeiro professor. Quanto eu tinha 6 anos, ele me levou para conhecer um laboratório fotográfico. Me encantei. Disse que quando crescesse ia ser fotógrafa e ganhei uma Polaroid enorme. E tinha o cinema. Lembro que ele fazia brincadeiras com filmagens.
Como era seu pai?
Ele se apresentava como jornalista, mas em São Paulo fez teatro e trabalhou na Editora Melhoramentos, tinha uma ligação muito forte com livros. Já em Londrina teve várias livrarias e uma tipografia e cresci no meio disso tudo. Sempre digo que ele era um artista. Amava todas as artes. Era escritor. Fotografava. Fazia cinema. Fazia teatro e montou o primeiro grupo de Londrina. Digo que sempre foi múltiplo. Nele, isso era natural.
Dois trabalhos seus com lençóis "Impressão da Memória" e o "Corpo em Reconstrução" teriam nascido de uma situação com seu pai. Como foi isso?
Ele trabalhava muito. Quando chegava em casa, queríamos que lesse gibi para nós, mas estava cansado. Como era uma pessoa bem divertida, dava caneta para a gente desenhar nas costas dele, que eram largas. A brincadeira funcionava como uma massagem e meu pai adormecia. Como suava muito, e dormia sem camisa, os desenhos ficavam impressos no lençol. Contei essa história para a poeta e jornalista Karen Debértolis, e a partir desta conversa tivemos, juntas, a ideia do projeto "Impressões da Memória", que foi uma construção de poemas visuais através de desenhos e palavras escritas no corpo e impressos em lençóis e com fotografias deste corpo desenhado.
E sua mãe?
Minha mãe foi fundamental. A pesquisadora Margareth Rago foi quem me apontou uma importante relação do meu trabalho com minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, sempre com os pés no chão ela é crítica, persistente e incansável. Ela foi muito importante nas relações que discuto sobre gênero e devo a ela minha persistência com o trabalho.
Podemos falar do câncer?
Eu tive um câncer no útero em 2003. Provei o caos da doença. Precisava de alguém até para me dar banho. Tive muito apoio e pessoas essenciais estiveram perto de mim. No hospital a visita do Plantão Sorriso, as enfermeiras, minha mãe, os amigos, amores e uma tia querida que foi no hospital me ajudar a fazer o primeiro pum [risos]. Difícil falar disso. Mas foi o que me deu força para lutar. Me senti amada. E acho que é disso que meu trabalho fala. É precisa do afeto para construir um corpo coletivo. Cada um me doou uma parte do seu corpo um braço, uma perna... Foi o que me deu força para lutar. Me senti amada. É disso que meu trabalho fala o entendimento de que é necessário o afeto do outro para uma reconstrução.
E o câncer virou performance...
A experiência me levou ao trabalho "Corpo re-Construção Ação Ritual Performance". Nele desenvolvi a ideia de que precisamos do outro para nos refazer. Passei a convidar pessoas para participar de performances públicas. Cada um imprime suas lembranças sobre lençóis, além de outros registros realizados durante as ações como fotografias, vídeos, desenhos, gravuras e paisagens sonoras. Cada um doa parte de seus corpos para serem impressos como braços, pernas, faces, cabelos, cotovelos, peitos e outros. Tenho realizado este trabalho em várias cidades.
Por que você permaneceu em Londrina?
Meu pai morreu cedo. A gente teve de ir à luta. E aqui eu tinha meu espaço. Fui algumas vezes para estudar, mas sempre voltei. Londrina é minha cidade. Hoje estar no interior é favorável, não significa mais estar fora dos circuitos. Nas últimas décadas os olhares foram se voltando para o que é realizado fora dos grandes centros.
Sua casa é linda...
Pois é, minha família nunca morou nessa chácara. Em 2000, decidi me mudar. Tinha motivos: passei minha infância vindo a esse lugar. Era longe da cidade. Para chegar, tinha de atravessar no meio dos eucaliptos, descer a pé. Quando meu pai morreu, resolvi reformar o barracão onde ele guardou os maquinários da tipografia, depois de desmontada, e outras tantas memórias e aqui montei meu ateliê.
Esse lugar é seu espelho?
Sim, essa casa é meu maior trabalho, como uma grande instalação.
Colaboração e edição de José Carlos Fernandes.