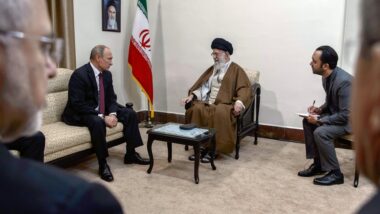Nos anos 80, cidades como Curitiba chegaram ao assombroso crescimento de 7% ao ano. Não havia escola, nem transporte para tantos. As dívidas sociais da década anterior, a de 70, alardeada como "a do milagre", bateram na porta dos brasileiros e marcaram a paisagem urbana, carregando ladeira abaixo uns tantos sonhos do gigante pela própria natureza. O saldo foi de periferias infinitas, mendicância e violência em escala industrial e uma verdadeira guerra dos meninos no chão das metrópoles.
Os meninos e meninas de rua já eram velhos conhecidos de quem circulava pelos grandes centros. Desde a década de 50, os noticiários registravam sem entender muito bem o que estava acontecendo a figura da infância desvalida, olhada com desconfiança e temor: seriam bandidos em potencial? Não se deu uma resposta à altura ao problema: proliferaram orfanatos, medidas repressivas e a estigmatização dos menores, nivelando por baixo o que se pode chamar de uma das mais graves chagas da vida brasileira o abandono da infância e da adolescência.
Não causa espanto que esse dilema, cujas raízes são profundas na formação do país, tenha explodido, justo nos últimos anos do regime militar. A imagem símbolo desse período é o filme Pixote, que Hector Babenco dirigiu em 1981. O personagem título é um "pivete", vivido por Fernando Ramos da Silva, ele mesmo um "menino de rua". Seu assassinato, após um assalto, em 1987, quando tinha apenas 20 anos, parecia confirmar o que se dizia a boca pequena: o país havia formado uma geração perdida. Não havia remédio. O fim do tantos outros seria o mesmo de Pixote e o de Ramos.
Em paralelo ao fatalismo daqueles tempos, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua pregava a redenção dos meninos. Foi um marco. O movimento não só mostrou que estava certo como esteve à frente da consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, documento assinado em 13 de julho de 1990 e que pautou, dali em diante, as políticas públicas do setor.
Seus beneficiados são incontáveis. Semana passada, a reportagem da Gazeta do Povo reuniu oito desses "filhos do estatuto" para conversar. O encontro foi na Chácara dos Meninos de 4 Pinheiros, em Mandirituba, iniciativa-marco da consolidação dos direitos da infância no país. "Quando conto a minha história, as pessoas não acreditam", diz Bruna Dayanne Justos, 19 anos, uma das participantes do bate-papo.
As pessoas a quem ela está se referindo são seus colegas de faculdade. Bruna moradora do Bairro Alto cursa o terceiro período de Direito na UniBrasil e até o início do ano vivia na República, abrigo mantido pela Fundação de Ação Social de Curitiba. Sua convivência com a família foi interrompida na primeira infância e não é demais lembrar que se tivesse nascido em tempos idos, provavelmente seu destino seria, digamos, pixotesco. Tanto Bruna quanto os sete rapazes que a ladearam no encontro concordam.
Cena 1
As histórias
"Meu nome é Adílson Pereira de Souza, tenho 31 anos, sou assistente social..." A história de Adílson poderia abrir todo e qualquer documentário sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. É um clássico. Quando o documento foi promulgado, ele tinha 11 anos, a maior parte deles passados nas ruas de Curitiba. Os outros foram vividos na então favela da Vila Pinto, a Vila das Torres.
Com perdão ao trocadilho, suas lembranças são proibidas para menores. E aproveitando o perdão, agora importam pouco. Em 20 anos de ECA, Adílson viveu uma verdadeira missão impossível. Saiu das ruas, encontrou na Chácara dos Meninos de 4 Pinheiros uma rede de proteção foi da primeira leva da casa , estudou, formou-se em Serviço Social na PUCPR, casou-se e fundou, com a mulher, Juliana, uma ONG a Iniciativa Cultural. Onde? Na Vila das Torres, onde tudo começou. Em tempo reaproximou-se da família. "... Um dos meus maiores ganhos", diz.
Na lista dos lucros, os "filhos do ECA" destacam sempre que se tornaram universitários ou em que se formaram. Um desavisado no encontro provocado pela Gazeta julgaria estar num simpósio acadêmico. "Meu nome é Jonathan Gomes da Silva, tenho 23 anos, e sou formado em Turismo." "Meu nome é Júlio César de Oliveira, tenho 26 anos, sou formado em Administração e agora curso Direito". Meu nome é Rodolfo Monteiro de Souza, tenho 19 anos, e faço Letras-Inglês. Depois quero cursar Direito."
O outro lado dessas conquistas é que são elas. Assim como Adílson, os ex-meninos Júlio César e Adriano de Andrade, 27, corretor de imóveis, conseguiram se redimir do momento sombrio em que meio mundo parecia não acreditar que um eram apenas meninos. O problema da descrença na inclusão perdeu a força. Mas outros persistiram.
São relatos de dor Rodolfo e Bruna experimentaram o abandono familiar numa idade em que não tinham como lidar com isso. Everson Mendes, de 19, teve uma provação a mais: experimentou também a violência e a desagregação. "Tenho uma irmã e um irmão num abrigo, um irmão preso. Meu pai está morto." Da mãe não fala.
Sentado numa roda de meninos e ao lado dos colegas já estabelecidos alguns deles agora engajados diretamente na causa da infância e da adolescência Everson fala com franqueza que quer "outra vida". "Um dia vou viajar, comer bem. Minha família está nos meus planos." Ao seu lado está Paulo Klinguelffos dos Santos. Tem cara de menino, mas já vive em abrigos há 16 anos. "Nem conheci minha mãe." Seu projeto:: "Quero ser educador. Trabalhar aqui na chácara."
Em miúdos, Everson e Paulo se alinham em duas vertentes da geração ECA 20 anos. Everson tem seu modelo em Adriano e em Júlio César, hoje integrados ao mercado de trabalho formal e participantes da sociedade de consumo. São "os normais". Paulo segue o modelo de Adílson, que se fez agente do setor e engrossa a nova linha de frente do estatuto. Em ambos os casos, há motivos para festejar: em 1981, quando o povo fazia fila para ver Pixote nos cinemas, via-se pouco, histórias como essa pareceriam de mentirinha.
Cena 2
O filme de cada um
A reportagem perguntou aos "filhos do ECA" em que momento se deram conta de que suas vidas tinham definitivamente mudado. Adílson Pereira de Souza se antecipa: "No meu primeiro dia longe da chácara..." Ele explica em quase uma década de abrigamento preparou-se para voltar. Não sabia como seria se deparar com a realidade. "Foi quando me dei conta de que tinha aprendido quais eram os limites. Trabalhei numa empresa. Cresci. Mas entendi que aquele não era o meu mundo. Fiz minha escolha pelos direitos humanos."
Bruna Dayanne Justus também passou pela "madureza" do retorno à vida comum. O choque veio quando passou no vestibular. "Acho que foi o meu momento mais difícil", explica, sobre a sensação de não ter com quem dividir a alegria e as expectativas da nova fase da vida. Hoje, a universitária pensa em retomar os vínculos familiares, com folga a hora mais difícil para todos os ex-meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social.
Em tempo. Experiências estéticas também são capazes de mexer com o destino dessa turma. Paulo Ricardo Klinguelffoss encontrou sua turma quando entrou para um programa de Comunicação da ONG Iddhea. O estudante de Letras Rodolfo Monteiro de Sousa passou pela mesma experiência ao entrar para o rol de oficineiros da ONG casa da Videira, então na Vila Fanny. Pegou a câmera na mão e produziu roteiros para o canal Futura. "Nenhum é autobiográfico", garante. "Mas todos têm a ver com os valores que apreendi nessa minha vida." Aos 20 anos, o ECA faz dessas coisas.