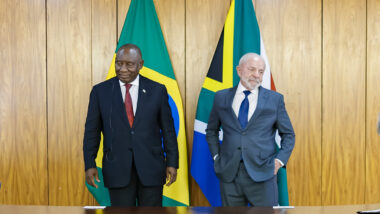Ouça este conteúdo
A polêmica envolvendo Silas Malafaia e Damares Alves é daquelas que o ambiente digital adora: personagens conhecidos, frases fortes, recortes, indignação, torcida. É o tipo de episódio que alimenta a máquina do “lado A contra lado B” e dá ao público a sensação de que está acompanhando política quando, muitas vezes, está apenas consumindo espetáculo, especialmente quando tudo se parece com ações do tipo “fogo amigo”, ou, em tempos de BBB, “lavação de roupa suja”.
Mas o ruído não é inocente. Ele funciona como uma cortina. Enquanto discutimos o detalhe, ignoramos a arquitetura. Ao nos fixarmos no tom, perdemos o ponto. E o ponto, aqui, não é “quem falou o quê”, mas as razões pelas quais esse tipo de fala tem esse tipo de impacto.
Há um incômodo que aparece toda vez que a religião entra de forma explícita no debate político brasileiro. Não é um incômodo jurídico; é cultural. Uma parte do país aceita, sem grandes problemas, que sindicatos, movimentos identitários, entidades empresariais, ONGs e coletivos pressionem, opinem e façam política. Mas, quando a voz vem de um púlpito (ou quando a pauta envolve igrejas), surge o alerta moral: “mistura perigosa”, “ameaça”, “retrocesso”.
A pergunta delicada é: por que alguns atores são percebidos como “sociedade civil” e outros, como “risco democrático”? Em muitos casos, a resposta não está na Constituição. Está no imaginário de quem gostaria que a religião fosse apenas decoração cultural: bonita em feriados, útil em tragédias, tolerável em silêncio – inconveniente quando fala.
Há um incômodo que aparece toda vez que a religião entra de forma explícita no debate político brasileiro. Não é um incômodo jurídico; é cultural
A política brasileira não descobriu a religião ontem. O que mudou é que o Brasil religioso, especialmente o evangélico, deixou de ser apenas base social e virou também base de consciência política. E isso alterou definitivamente o jogo. Porque fé não é só preferência; é cosmovisão. E cosmovisão é aquilo que organiza o que chamamos de bem, justiça, dignidade, limites, deveres.
O efeito disso é inevitável: quando um segmento religioso participa do debate público, ele não entra apenas com “opiniões”. Ele entra com uma gramática moral completa. E, em um país que discute o próprio futuro em chave moral (família, educação, liberdade, vida, trabalho, punição, assistência, corrupção), essa gramática passa a ser decisiva.
É aqui que a palavra “laicidade” costuma aparecer como bordão que encerra conversas: “o Estado é laico”. Sim, é. Mas a frase virou, muitas vezes, um truque retórico: invoca-se laicidade para tentar expulsar do debate público o que não se consegue derrotar no debate público.
Laicidade não significa “religião fora da política”. Isso seria laicismo – e laicismo, quando militante, é apenas uma teologia alternativa: não elimina crenças; substitui crenças, impondo uma metafísica secular como se fosse neutralidade. O Estado laico é aquele que não estabelece uma religião oficial, não aquele que desautoriza cidadãos religiosos a agir politicamente.
VEJA TAMBÉM:
Aliás, o próprio pluralismo político só é real quando inclui, sem constrangimento, o pluralismo de convicções profundas, inclusive as religiosas. Caso contrário, cria-se uma democracia curiosa: todos podem falar, desde que falem a linguagem “certa”.
Em ano eleitoral, o Brasil volta a falar de Deus com mais intensidade. Alguns fazem isso com fé genuína; outros, com marketing. E aqui é preciso ser honesto: oportunismo religioso existe, mas oportunismo existe em todo lugar. Há oportunismo empresarial, sindical, identitário, ambiental, acadêmico. O problema não é o “segmento”; é a moralidade do agente.
O que não dá é transformar a menção a Deus em prova automática de irregularidade democrática. A democracia não exige que o cidadão deixe sua consciência na porta do comitê eleitoral. Exige apenas que ele aceite as regras do jogo comum: Constituição, leis, direitos fundamentais, alternância de poder, respeito às minorias.
O pluralismo político só é real quando inclui, sem constrangimento, o pluralismo de convicções profundas, inclusive as religiosas
O que veremos, portanto, é previsível: candidatos buscando a linguagem religiosa para sinalizar pertencimento moral. Não porque a fé “tomou” a política, mas porque a política percebeu que a fé nunca saiu da sociedade.
Há dois riscos simétricos, e ambos são ruins.
O primeiro é expulsar a religião do espaço público, tratando-a como intrusa. Isso gera ressentimento, radicaliza grupos, empobrece o debate e cria uma elite moral autoproclamada: a turma que decide quais convicções são aceitáveis e quais são “perigosas”.
O segundo é capturar a religião como instrumento total da política, transformando púlpitos em comitês permanentes e reduzindo a fé a uma máquina de mobilização eleitoral. Aqui, quem perde é a religião: ela vira meio, não fim; propaganda, não transcendência; tribo, não evangelho.
VEJA TAMBÉM:
Entre a exclusão e a captura, existe um caminho mais difícil (e mais saudável): reconhecer que a religião pode ocupar o espaço público como fonte de valores, crítica moral, serviço social e linguagem de sentido, sem se confundir com o Estado e sem se submeter ao Estado.
O episódio Malafaia-Damares é, antes de tudo, um espelho. Não revela algo excepcional, mas estrutural: atores religiosos também jogam o jogo democrático. Gostemos ou não, isso não é desvio; é realidade. A política nunca foi um espaço moralmente asséptico, imune a convicções profundas e disputas simbólicas. Esperar isso é projetar uma democracia que nunca existiu.
A saída não é silenciar, nem canonizar. É lidar. Temos liberdade para influenciar – e jamais estaremos livres de ser influenciados. Esse é o jogo democrático. Ele não promete pureza, mas convivência; não elimina o conflito, mas o administra.
A laicidade brasileira, quando levada a sério, não exila o sagrado nem o entroniza. Permite que ele fale sem mandar, e que o Estado governe sem se endeusar.
Conteúdo editado por: Marcio Antonio Campos