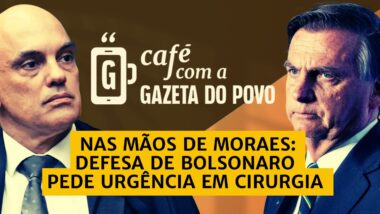Uma das minhas amigas mais antigas está aqui de visita. Temos uma sintonia especial desde que nos conhecemos, sempre presentes uma na vida uma da outra, fazendo conquistas importantes praticamente juntas. Nós nos casamos mais ou menos na mesma época, entramos na faculdade no mesmo período, engravidamos em sincronia e fomos vizinhas durante anos. Porém, por mais frequentes que sejam os encontros, devagarzinho o tempo levou a melhor; fiquei sem vê-la mais de um ano.
Com cuidado, ela se deita no sofá, eu sentada ali perto. Não está com cara boa: mais magra do que nunca, fraca, com dores. “Como você está?”, arrisco.
“Bom, eu estou com câncer”, respondeu simplesmente. E mudou de assunto, não vendo a necessidade de se estender para falar do prognóstico mais recente ou especificar se é terminal ou não. A única vontade que tenho é a de segurar sua mão, acariciar seus ombros e lhe dizer o quanto é importante para mim, com um toque carinhoso e firme. Mas fico de longe, incapaz de me mover. Eu me imagino passando a mão em seu cabelo ou lhe dando uma almofada para deixá-la mais confortável, mas não consigo fazer nada. Nossa conversa vem, vai, vira silêncio; não há muito mais a dizer.
Ela tem as mãos sobre o estômago, onde se concentra a dor maior. Cinco anos atrás, eu teria rompido o silêncio com um abraço gentil ou um toque, mas estou travada, imóvel, sem poder expressar o que penso e/ou sinto. Não me permito chorar quando nos despedimos.
Quando perdi o uso das mãos, perdi minha linguagem amorosa. Tenho esclerose múltipla, que resultou na incapacidade de uso das mãos e pés. Minha doença progride tão lentamente que sou pega de surpresa quando percebo que não posso fazer algo; na verdade, mal sabia que venho perdendo minha capacidade motora a uma fração de centímetro por dia. Nervo a nervo, perdi o uso das pernas, braços, pulsos, mãos, indicador, polegar.
Não sei dizer exatamente quando me tornei paraplégica; só sei que agora faço parte do clube
Não sei dizer exatamente quando me tornei paraplégica; só sei que agora faço parte do clube. Minha paralisia me incapacita até as pontas dos dedos, literalmente. Não consigo mover minha cadeira de rodas, não posso segurar uma xícara de café, quanto mais a mão de alguém – não posso tocar em nada, de jeito nenhum. Minha cadeira lembra uma fortaleza, impossível de abandonar, difícil de subir. Se os outros querem tomar a iniciativa e me tocar, podem se sentir intimidados. A impressão é a de que há um vidro grosso me separando do mundo – e por causa da minha incapacidade física, começo a acreditar que não tenho forças para mudar isso.
Ao longo dos anos, tentei me adaptar a essa minha bolha de vidro, convivendo, aceitando, desconfortável, o sofrimento. Às vezes, até me sinto ligada às pessoas, mas, na maioria das vezes, me torno passiva. Dou um duro danado para esquecer o prazer do toque. Digo a mim mesma que sou uma pessoa positiva, capaz de lidar com a situação. Montei a barraca no sopé do meu Monte Evereste e tento não olhar para cima para ver o que estou perdendo.
Mas sinto a perda da sensibilidade como se tivesse tido um membro extirpado do meu corpo, uma ferida aberta, invisível, que cubro cuidadosamente dia após dia. Vivo hiperconsciente dos momentos em que as palavras não bastam, quando segurar a mão de alguém é a única maneira através da qual consigo mostrar o que sinto, quando não posso cumprimentar algum conhecido afetuosamente colocando a mão em seu ombro. Ou quando sei que a pessoa está triste e não é apropriado falar do problema; não dá mais para consolá-la com ternura. É como não poder respirar. Essa perda, combinada à culpa que sinto por me sentir péssima, é esmagadora. E me resigno à ideia de que nunca mais terei uma troca táctil íntima, acalentadora e consensual na vida.
É nesse estado de resignação catatônica que uma fissura inesperada aparece no vidro grosso que me separa das pessoas “normais”, um raio de luz que revela um mundo de intimidade do qual não tinha me apercebido.
Leia também: Sou cadeirante, sim. E sua médica (artigo de Cheri A. Blauwet, publicado em 7 de dezembro de 2017)
Nossas convicções: A dignidade da pessoa humana
Estou com outro amigo em um café. Como minha voz está fraca e difícil de ouvir em locais públicos, uso um amplificador – que tem um microfone e fone de ouvido e me fazem parecer uma professora de aeróbica que por acaso está dando aula na cadeira. Estou com o fone no lugar, mas meu amigo tem de se curvar e, mesmo assim, não me ouve. Minha voz está inaudível. Levo a cabeça na direção do dial do aparelho para girá-lo e torná-la mais clara. Ele descobre a peça, sempre me olhando nos olhos, para checar a altura da minha voz. Continuo falando, ele aumenta o volume, mais, mais, até que, opa, agora sim. Balançamos a cabeça e sorrimos ao mesmo tempo, voltando ao papo.
Enquanto ele se acomoda na cadeira, eu me sinto eufórica. Ao aumentar o volume da minha voz, ele fez o mesmo com a minha verdadeira “essência” – e pelo fato de se interessar pelo que eu tinha a dizer. E de encontrar um jeito de se conectar comigo.
Acabara de redescobrir a intimidade sem o toque.
Minha mente continuou em turbilhão, muito depois de nos despedirmos. Talvez eu consiga recuperar a intimidade, pensei. É só a linguagem que tem de mudar. Tinha de redefinir o conceito para mim mesma. O que ela é, sem o toque? A liberdade de expressão. O prazer de ser reconhecida, vista, aceita, tratada de forma igual. Poder baixar a guarda, sem me sentir incomodada pela versão que a sociedade faz de mim. A sensação de que os estigmas da deficiência e da doença desaparecem. Revisei a minha versão do Monte Evereste pensando que talvez houvesse um jeito de voltar ao mundo dos vivos.
Hoje eu sei que a intimidade pode estar em todo lugar; nos momentos que noto, recebo, crio
Depois daquele dia no café, outros momentos íntimos passaram a surgir no meu dia a dia. Passei a notar como familiares, amigos, gente querida e até estranhos conseguiam me fazer sentir visível e completa das formas mais triviais. Apreciar esses gestos me deixa sem fôlego: é como se alguém que conduz minha cadeira estivesse fazendo amor comigo, aquele que se ajoelha para me olhar nos olhos estivesse me acariciando, quem me alimenta me oferecesse uma experiência de prazer e ternura.
Em meio ao trivial também há belas surpresas: em um dia corrido, antes de ir para o trabalho, meu marido me prepara um ovo pochê, sua especialidade. Ele faz questão de preparar, eu nunca peço. Um amigo tenta me ajudar a comer um cookie. A princípio, ele faz tudo errado, e o processo de achar o melhor jeito de me alimentar tem ares de um balé intrincado. No Natal, alguém coloca O Messias, de Handel, música que eu amo e que o resto da família acha um tédio. Geralmente se recusam a tocá-la, mas, dessa vez, resolvem fazê-lo por mim, no volume máximo, para que possa ouvir do quarto.
Aprecio esses momentos e, com isso, me sinto estimulada e fortalecida por eles. Percebi que posso ter um papel ativo, que posso dar além de receber. Assim, assumi a minha própria intimidade, ainda que sofra pelo que não posso fazer. Deixei o acampamento para trás e comecei a minha longa e lenta subida, o conceito aberto e fluido da proximidade me motivando a seguir adiante.
Sempre adorei comer; pois consegui reunir coragem para pedir às pessoas que me acompanhem em sessões gastronômicas longas e “suntuosas”, nas quais levamos horas para comer e saborear até a última migalha de um doce ou pãozinho, os dois no mesmo ritmo, o que me faz sentir honrada e amada.
Leia também: Inclusão: a lei e a realidade (artigo de Berenice Reis Lessa, publicado em 19 de março de 2017)
Comecei a me ver nos outros: faço parte de uma tribo. Cadeirantes, pacientes de esclerose múltipla, idosos com bengalas e andadores, gente que sofre de afasia ou lesão da medula espinhal... a lista é infinita. Estamos em todo lugar. Olho nos olhos de um senhor de 90 anos no elevador lotado; ele dá um toquinho no chapéu com um sorriso simpático. Vejo uma mulher com um acessório para ajudá-la a caminhar e sorrimos uma para a outra, companheiras de luta. Vizinhos. Estranhos. Visíveis, invisíveis.
Brinco com a minha própria deficiência, criando humor onde antes havia constrangimento. Quando bebo água, não tem jeito de parar, então se alguém faz alguma piada, rio e começo a babar. É humilhante, mas ridiculamente engraçado ao mesmo tempo. Quase sempre estou com o peito molhado.
Hoje eu sei que a intimidade pode estar em todo lugar; nos momentos que noto, recebo, crio. Nós dois estamos compartilhando um momento íntimo agora – porque se você chegou até aqui sem desistir, faz parte da tribo exclusiva de pessoas que me enxergam.
Mas, no fim das contas, minha redescoberta da intimidade me leva de volta ao início. Ao toque.
Minha amiga querida voltou a me visitar. Estamos tentando nos ver com mais frequência – com menos tempo de sobra, é natural. Ela está deitada no sofá, enquanto ponho para fora tudo o que guardei para mim da última vez – como queria ter lhe feito um carinho, apertado sua mão, me sentado ao seu lado. Ela sorri, agradecida, mas continua a conversa, já que nunca foi muito fã de ser o centro das atenções. E dirige a conversa de volta para mim.
Falamos mais um pouco e, encorajada pela minha própria confissão, pergunto se seguraria a minha mão, se não está sentindo muita dor. Devagar ela se senta e minha cuidadora aproxima minha cadeira dela o máximo possível. Ela estende a mão, apoiando-a na minha. Olhamos uma para outra e respiramos.