Coletivos de arte se espalharam pelo país e ajudam a formar o "poder jovem" dos anos 2000
Ainda é cedo para avaliar a "primavera paulistana", com suas perdas e ganhos. A depender do desfecho dos protestos, aumento de tarifa e ônibus nunca mais serão como antes. Mas já se pode dizer, com alguma dose de segurança, que jovens envolvidos em movimentos culturais encontraram um canal para fazer política como há muito não se via. Param o bonde, se preciso for. Eles fazem parte dos últimos acontecimentos na Pauliceia Desvairada. Ninguém há de duvidar. O delírio das ruas o comprova.
Chega a ser curioso. No fim do século 19, o mundo da cultura fez questão de assinar seu divórcio da política e da ética. Ser um homem e uma mulher próximo da arte implicava flertar com a amoralidade. Desdenhar dos partidos. Envolver-se com as brigas renhidas pelos direitos humanos, para logo em seguida se pôr do outro lado, realizando assim o destino da arte o de contrariar. Era, entendia-se, o único modo de existir sem se render.
A questão é bastante cara para analistas da cultura, como Terry Eagleton, Raymond Williams e Edward Said. Esses e outros autores passearam, num misto de perplexidade e desconforto, pelos descaminhos da chamada "arte pela arte" e seu paladar infinito para mirar o abismo, tirando da náusea e da tontura sua matéria-prima. O preço, diz Eagleton, foi o alijamento dos artistas e intelectuais dos grandes debates da modernidade. Vistos como exóticos, ficaram relegados a "vozes interessantes", mas não necessariamente a participantes da conversa. Deixaram de ser levados a sério. Repare: é raro procurar um escritor ou um ator para falar de uma tragédia da natureza ou de um golpe de Estado. Mas seria desejável que isso acontecesse, pois a arte os aproxima dos grandes embates humanos.
Sem os artistas à mesa de debates, mais próximos ficamos de um mundo frio e tecnocrático. Mesmo assim, novamente recorrendo a Eagleton, a cultura não tira o sono de nenhum membro do Banco Mundial. Além do mais, trata-se de um debate cercado de tensão. Ao longo do século 20, muitas ondas surgiram para alardear o papel transformador da arte e sua tarefa de implantar o mundo novo, retirando-a do "mundo à parte". Esses movimentos não tardaram a serem acusados de panfletários, de artesanato, de repetição, de manipulação da esquerda e não se pode negar que há um fundo de verdade nisso.
Na vida brasileira, há uma expectativa oceânica de que a cultura seja engajada na defesa do país, o que relega as práticas artísticas a um lugar funcional. Algo como um móvel bonito na sala. Mas cultura não é, a rigor, afirmação de nacionalidade. Nesse sentido, melhor ser apolítica. Do contrário, perde a sua capacidade estética. É assunto para uma vida.
A última década, pelo que parece, ficará marcada como aquela em que a cultura elaborada, a política e a ética deram de andar de braço dado, como se nada tivesse acontecido nos últimos cem anos. Pululam aqui e ali grupos que nasceram como oficinas e ateliês de arte e que se convertem em coletivos. Das hordas das artes visuais, do teatro e da música saltam, com facilidade, para a discussão sobre a mobilidade urbana, meio ambiente ou mesmo segurança pública. A cultura os ajudou a conquistar a rua e a acreditar numa sociedade orgânica, na qual o lé tem a ver com o cré. Detratores à parte, tem-se um grande momento.
Não se trata de uma cruzada ingênua, é verdade. A cultura se tornou um dos motores da economia mundial, o que concorre para sua respeitabilidade. Também se tornou um campo vasto de estudo, além de alvo de políticas públicas. Vista pela ótica da antropologia, da sociologia, do urbanismo, passou a ser entendida como um fenômeno. O risco é achar que toda arte, sendo bem intencionada, é válida. Nesse cenário, o que importa dizer é que a cultura voltou a ser entendida como instrumento de luta ideológica, como explora o pesquisador Teixeira Coelho em alguns de seus ensaios. Diante da falência dos partidos, das moralidades, da vida cívica, a relação criativa com o mundo ganha o status de equipamento de luta e de resistência. Ser culto não implica ser erudito, mas ser participante, numa quebra com o paradigma da liberdade estética absoluta professada na Belle Époque.
Uma das bandeiras dos coletivos ou que nome tenham é a inclusão urbana. Daí tantos jovens que não usam ônibus ocupando as ruas. Eles encontraram nas divisas da cultura um motivo para se envolver numa realidade com a qual se relacionavam de forma epidérmica. É ganho. Não resolve o problema da arte, que não cabe numa cartilha, mas serve para romper com a pasmaceira. É emoção demais? Há risco de desafinar? A ver.





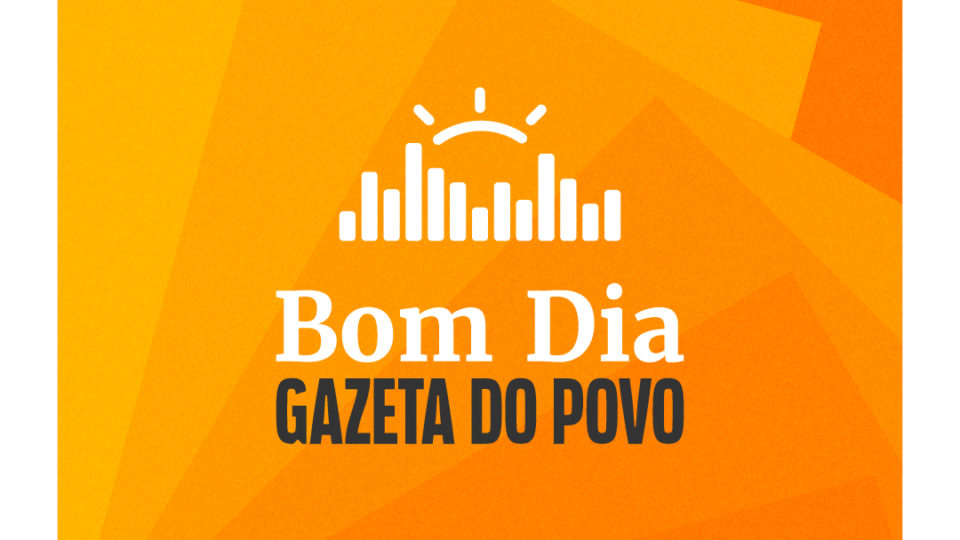
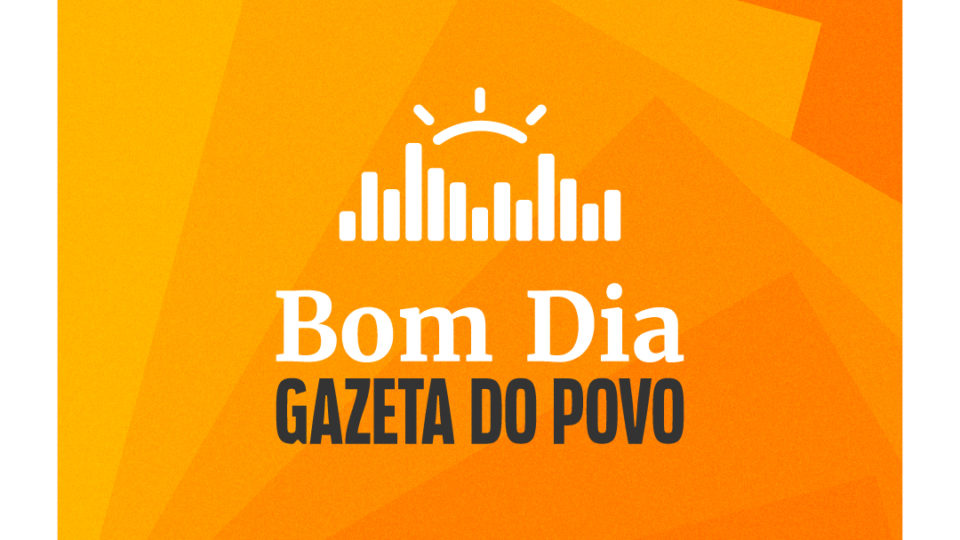
Deixe sua opinião