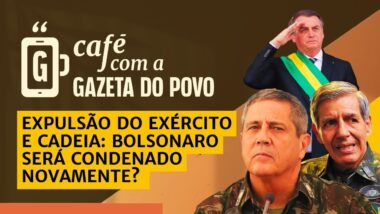Ouça este conteúdo
Na semana passada o governo foi chacoalhado com a história publicada pelo Estadão sobre a existência de um “Gabinete Paralelo” de pastores evangélicos interferindo no MEC. No áudio vazado, ainda em disputa, o ministro da educação Milton Ribeiro, que também é pastor presbiteriano, dá a entender que os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura teriam privilégios especiais de intermediação de recursos do FNDE junto a prefeituras.
O assunto ainda vai longe – é preciso aguardar que tipo de defesa o Ministro apresentará diante dessa situação aparentemente indefensável. Mas a coisa toda exemplifica um padrão que não é desconhecido pelo público evangélico: pastores usando a influência da fé para vergar a atividade do Legislativo e do Executivo, de modo a direcionar o fluxo de recursos públicos. Nem sempre esse esforço envolve desvio direto de recursos; frequentemente trata-se de um processo indireto, através do qual os líderes religiosos acumulam compromissos e privilégios especiais locais.
Em princípio, se confirmado esse quadro, temos uma corrupção do processo democrático. O Ministro Milton Ribeiro foi escolhido por um presidente eleito democraticamente. Assim como os prefeitos que recorreram ao gabinete paralelo de pastores. Os recursos do FNDE são públicos. Mas quem elegeu ou nomeou esses pastores? E a quem eles prestam contas sobre a natureza da sua relação com as prefeituras beneficiadas? Ninguém sabe, por enquanto.
VEJA TAMBÉM:
A indignação diante desse esquema ainda inexplicado se espraiou por muitos setores da sociedade – não apenas entre as esquerdas e os laicistas, desesperados por encontrar fatos para expulsar a religião cristã da esfera pública, mas também no campo da direita e entre muitos evangélicos. Sou pastor evangélico também, e meu sentimento é o de vergonha pela coisa toda. É um retrocesso nos esforços por uma presença evangélica pública e decente.
E aqui cabe uma grave advertência. Todos se lembram do que foi um dos estopins do processo de aguda resistência ao lulopetismo, o qual culminaria com o impeachment da presidente Dilma Rousseff: o famigerado Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que instituia o “Plano Nacional de Participação Social”. O famigerado projeto dos “Sovietes do PT”, como foi apelidado pela oposição, daria poder especial a movimentos sociais politizados e a grupos de pressão articulados, para participar de definições sobre políticas públicas de distribuição de recursos públicos. O decreto, fulminado por uma intensa crítica da sociedade e finalmente revogado, alegava aspirações democráticas, buscando aumentar a influência da sociedade civil sobre a governança, mas definia a “sociedade civil” de um modo incrivelmente vicioso e oportunista.
Na prática, o decreto dos “sovietes” consagraria uma elite ideológica e militante como mediadora entre o Estado e a sociedade civil: um grande passo para a consolidação daquela hegemonia da esquerda sobre a sociedade civil, preconizada pelos socialistas democráticos e temida por liberais e conservadores. Seria, com toda certeza, uma degradação da nossa democracia.
E aqui, precisamente, está a primeira parte da nossa advertência: que diferença há entre uma classe de movimentos sociais que regula a relação do estado com a sociedade civil a partir de uma ideologia laicista hegemônica, e uma classe de líderes religiosos que faz o mesmo papel, em nome da representatividade de um movimento religioso que caminha em direção à hegemonia?
No caso do projeto lulopetista, havia ao menos um esforço dos representantes de movimentos sociais para dar voz a interesses coletivos, e do governo para construir um enquadramento legal para essa atividade. No caso dos pastores em questão, no entanto, nem mesmo há transparência suficiente para reconhecermos algo mais do que interesses privados. Se os sovietes do PT eram um risco para a democracia, gabinetes paralelos de pastores interferindo na distribuição de verbas públicas não o seriam também?
A situação toda manifesta uma preocupante simbiose entre incultura democrática na religião e descuido pela democracia no governo.
Mas a coisa toda exemplifica um padrão que não é desconhecido pelo público evangélico: pastores usando a influência da fé para vergar a atividade do Legislativo e do Executivo, de modo a direcionar o fluxo de recursos públicos
Não sejamos injustos: sabemos que o atual governo não foi, ao contrário do que foi sugerido tantas vezes, consistentemente autoritário; não foi, ao menos no que se refere a políticas e decisões sobre a sociedade civil. Aqui ele pareceu muito mais libertário e até mesmo omisso, como se deu no combate à pandemia, e jamais agiu para reduzir liberdades fundamentais. Por outro lado, internamente, o governo agiu de modo decisivamente autoritário, como foi o caso, por exemplo, na sua política ambiental, desautorizando instâncias importantes do campo ambiental, enfraquecendo as fiscalizações e vigiando ideologicamente seus próprios quadros. O quadro que emerge é o daquele espírito autárquico tão bem exposto por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil: autoritarismo dentro de casa e laissez-faire da porta pra fora.
Esse tipo de espírito certamente não favorece a democracia, que demanda participação responsável e uma ética de cuidado. E de fato não temos um governo grandemente interessado nessas coisas. Acusá-lo de fascismo seria um exagero enorme, mas trata-se, sim, de um governo vulnerável à tentação autoritária, especialmente diante de aumentados apelos sociais por mais participação nos processos políticos.
Ora, se um governo desinteressado no ethos democrático abre a guarda para pastores igualmente desinteressados em processos democráticos, temos uma simbiose de altíssimo risco; ou melhor, uma espécie de parasitismo. Que tal parasitismo clerical da coisa pública exista há muito tempo não há dúvidas, mas sua associação com um governo autárquico como o atual é motivo de séria preocupação. E isso nos remete a outro raquitismo grave, de natureza pedagógica e política: a carência de uma cultura democrática entre muitos pastores evangélicos e em suas comunidades.
A incultura democrática se mostra nesse caso como uma dupla pobreza, generalizada tanto no mundo político quanto no mundo religioso. E essa subnutrição ético-política pode abrir as portas para doenças mais graves. Uma das doenças oportunistas que se aproveitam desses momentos é, evidentemente o laicismo militante. O Twitter, por sinal, espirrou e tossiu violentamente nos últimos dias.
O caso inteiro é de uma tristeza enorme, especialmente diante dos esforços de muitos evangélicos conscientes no sentido de combater a desinformação e o preconceito laicista contra a presença pública da religião, inclusive na política. Enquanto esse escândalo no MEC se desenrolava, eu participava no Rio de Janeiro do Simpósio Brasileiro de Liberdade Religiosa, promovido pelo Centro de Estudos de Direito e Religião da Federal de Uberlândia (CEDIRE-UFU), sob a liderança do amigo Dr. Rodrigo Vitorino, e o Departamento de Direito da Brigham Young University (BYU). Tivemos representantes de diversas religiões e organizações de interesse, como o CONIC, a Anajure e o IBDR, pesos-pesados na conversação internacional sobre liberdade religiosa, como a professora Nazila Ghanea (Oxford) e o professor Jónatas Machado (Coimbra), e mesas da mais alta qualidade, das quais destaco a de quinta à tarde, sobre liberdade religiosa no mundo do trabalho.
Entre os temas aventados no Simpósio esteve o da laicidade colaborativa, assunto de especialidade do confrade do IBDR Jean Regina, também presente no evento. Laicidade colaborativa é a categoria conceitual adequada para traduzir o modelo constitucional brasileiro de cooperação entre Estado e organizações religiosas, e goza de robusta fundamentação. Menciono o assunto aqui porque há uma forma correta, justa, legal e democrática de promover a presença pública da religião; uma forma simbiótica e não parasítica, e essa é a segunda parte da nossa advertência: a manipulação religiosa da política alimenta laicismo militante, enfraquecendo a democracia e turvando a água de um debate promissor. O parasitismo impede a simbiose.
O corrente escândalo no MEC nos diz que o mundo evangélico necessita desesperadamente de educação para a democracia e de conhecimento do direito religioso brasileiro. Não há possibilidade de um movimento religioso e ético tornar-se uma força social sem impactar o processo político, mas a incultura e os vícios políticos podem destruir a sua contribuição histórica. Enquanto tiram o cisco dos olhos dos laicistas, os evangélicos precisam arrancar essa trave em seus próprios olhos.