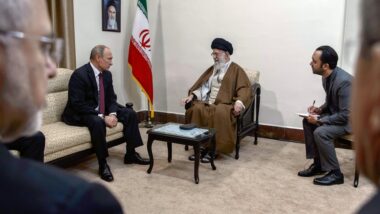No Brasil, sempre que se critica o desperdício de recursos públicos no financiamento de pesquisas e cursos de pouca aplicação prática, os nem sempre bem-intencionados habitantes da Torre de Marfim se ofendem.
Julgando-se acima de qualquer crítica que venha da plebe ignara que os sustenta, lançam imediatamente o argumento preferido, ao lado da famosa “autonomia universitária”: importantes universidades nos Estados Unidos também fazem pesquisas e oferecem cursos pouco ortodoxos.
Recentemente foi anunciado que a UnB oferecerá uma disciplina que, segundo seu professor titular, irá “apontar caminhos para se chegar” à felicidade. "A intenção é apresentar estratégias para ajudá-los a lidar com fatores adversos do dia a dia”, completa ele.
LEIA TAMBÉM: Em um sistema educacional o aluno é o fim, e não o meio; logo, ele é que deve ser financiado — e não a escola
Possivelmente para driblar a óbvia áurea de curso de auto-ajuda e dar um certo verniz erudito, seus defensores lembram a nós, pouco ilustrados, que tal disciplina é oferecida com grande sucesso em Harvard e Yale. Aparentemente, para essas pessoas, este deveria ser considerado um argumento incontornável.
Infelizmente, no que se refere a cursos de Humanidades, a chancela de importantes universidades americanas não oferece garantia de rigor acadêmico ou de utilidade profissional.
Roger Scruton, um dos maiores filósofos da atualidade, por diversas vezes já apontou que tais cursos foram invadidos por fake subjects. Em geral, são os mesmos cursos que trazem como referência de educador alguém como Paulo Freire, que até seus últimos dias foi um ardoroso defensor de ditadores — fato aparentemente considerado irrelevante por seus seguidores nos cursos de Humanidades mundo afora. Segundo a narrativa da Academia pós-estruturalista à frente desses cursos, o que importa é sua teoria pedagógica revolucionária em defesa dos oprimidos — desde que, claro, não se trate dos oprimidos por seus ditadores de estimação.
São os mesmos cursos cujos professores, sob a justificativa de não ofender a sensibilidade de seus alunos, aleijam obras literárias, quando não as eliminam por completo, para que sejam evitados tópicos potencialmente perturbadores, como violência doméstica, estupro, ou suicídio.
Um exemplo bastante ilustrativo da vacuidade acadêmica que move esses cursos: em 2016, uma diretora e professora da renomada Yale, a mesma universidade que oferece com sucesso o curso de Felicidade, apoiou o protesto dos alunos que clamavam por uma “descolonização” da bibliografia do curso de Inglês.
Segundo ela, era de fato inaceitável que os dois semestres pré-requisitos para todas as graduações cobrissem a obra poética de oito homens brancos. Ela se referia a Chaucer, Wordsworth e Shakespeare, dentre outros que ela provavelmente julgava igualmente irrelevantes para a literatura inglesa e cujo único predicado seria o fato de terem sido homens e brancos.
VEJA MAIS: Sem autonomia para construir currículos e modelos de ensino naÌo haÌ exceleÌncia educacional
Diante disso, não nos surpreendemos com alguns exemplos de questões que inquietam a Academia nesses cursos de Humanidades em universidades americanas: da universidade de Memphis, Tennessee, vem um estudo co-escrito por uma professora do Departamento de Aconselhamento, Psicologia Educacional e Pesquisa da instituição — e seus dois gatos.
Nele, os autores rompem os conceitos filosóficos humano-centrados através de uma narrativa multi-espécie em culturas-naturezas. Um dos autores felinos, por sinal, faleceu antes de o artigo ficar pronto, o que, segundo a professora, impactou fortemente na construção do trabalho.
Da universidade do Oregon, vem um outro estudo, igualmente enigmático. Trata sobre as relações entre gênero, ciência e geleiras, e propõe uma estrutura glaciológica (sim, referente a geleiras) feminista.
LEIA TAMBÉM: Você não vai acreditar nestes trabalhos acadêmicos bizarros
Não são exemplos isolados em um ambiente majoritariamente são. Em 2017, dois acadêmicos, Peter Boghossian e James Lindsay, prepararam uma “pegadinha” — um Sokal hoax — para mostrar o nível de rigor acadêmico de algumas revistas científicas, para as quais um amontoado de frases contendo os jargões pós-modernos são suficientes para publicação.
Escreveram um artigo intitulado “The conceptual penis as a social construct” (“O pênis conceitual como construção social”, em tradução livre). Basicamente, o artigo defende que o pênis não deve ser entendido como um órgão anatômico, mas como uma “construção social altamente fluida e performativa de gênero”. Não há qualquer embasamento teórico: os autores afirmam que nem ao menos tentaram descobrir do que trata a teoria de gênero. Apenas enfatizaram, através do palavrório “adequado”, que a masculinidade é intrinsecamente ruim e que o pênis é a raiz desse mal.
Um artigo que, segundo seus próprios autores, é intencionalmente ridículo e que jamais deveria ter sido publicado. Mas foi. E suponho que não faltariam professores no Brasil que, ignorando que se tratasse de um hoax, se dispusessem a usá-lo como referência bibliográfica em alguma dessas disciplinas que a Academia brasileira adora replicar.
Mas se, para alguns, os conteúdos dessas disciplinas são fake, não se pode dizer o mesmo dos gastos envolvidos na sua manutenção nas instituições. Nos Estados Unidos, ganha corpo a percepção de que muitas vezes o dinheiro de impostos gasto nas universidades não está se revertendo em benefícios para a sociedade. Sem falar na dívida trilionária dos alunos, que pagam para estudar mesmo nas universidades públicas. Muito americanos já se questionam se a sociedade realmente precisa de tantas pessoas graduadas em Estudos de Gênero, por exemplo. E indagam, ‘Será que cursos baseados predominantemente em disciplinas tão pouco práticas valem o investimento?’
Bem, do ponto de vista financeiro do aluno, já é possível estimar essa resposta. Desde 2016 existe um site chamado Launch My Career Colorado que permite que alunos e suas famílias estimem o retorno financeiro do investimento para cada curso oferecido em uma universidade ou faculdade daquele estado. Sem grande surpresa, observa-se que as áreas de engenharia são as que têm melhor retorno. Também não chega a surpreender que graduados em alguns cursos da área de Humanidades, como Estudos Afro-Americanos e Estudos da Mulher tenham salários iniciais baixos e pouco retorno diante do investimento: alunos gastam quase US$100.000,00 nesses cursos na universidade pública do Colorado.
Do ponto de vista do pagador de impostos, o mais recente ataque ao desperdício vem do economista, Bryan Caplan, em seu polêmico livro “The case against education” (O argumento contra a educação, em tradução livre). Nele, o autor defende que apenas uma pequena parte do que um graduado ganha a mais do que um não graduado se deve aos conhecimentos adquiridos no curso.
Mais: ele apresenta evidências empíricas de que um ano a mais na educação universitária traz um retorno mínimo em termos de aumento de renda para a sociedade como um todo. Uma das sugestões que ele dá para acabar com o desperdício de dinheiro público com educação é a eliminação de disciplinas que ele chama “inúteis” — possivelmente as fake subjects apontadas por Scruton estão aí incluídas — como pré-requisitos para graduações. Se está caro para os americanos manter a oferta desses cursos, mesmo que co-pagos pelos alunos, imagine para nós.
Certamente que a escolha de uma carreira ou mesmo das disciplinas ou pesquisas que alguém fará na universidade não deve ser pautada exclusivamente pelo potencial retorno financeiro ou pela utilidade prática daí advindos. Nem se defende aqui a eliminação da oferta de disciplinas das Humanidades, como propõe o Japão.
No entanto, cursos com rigor acadêmico duvidoso e disciplinas mais propícias para sessões de coaching, como parece ser essa tal Felicidade, podem até ser oferecidas — desde que todos os custos envolvidos na sua oferta sejam cobertos com recursos privados. Aliás, é exatamente o que fazem tanto Harvard quanto Yale, as pioneiras na oferta do curso, citadas como modelos por seus defensores no Brasil.
No entanto, para a infelicidade dos pagadores de impostos brasileiros, a Felicidade na UnB será integralmente bancada com recursos públicos. Esta não é a primeira ou a única disciplina pouco ortodoxa que financiamos. Destaco uma oferecida pela UFMG, chamada de “Pedagogia do Prazer”, que tinha como um de seus fins o descarrego de energias negativas dos alunos. De modo semelhante, são nossos impostos que bancam diversas pesquisas acadêmicas de obscura utilidade para a sociedade, além de atividades “artísticas”, como a Mostra de Arte, Gênero e Sexualidade, cujo objetivo era “criar paradigmas sobre o ânus”.
Enfim, não me parece difícil entender que, se há dinheiro público envolvido, há que se ter prioridades. Com menor desperdício, possivelmente sobrariam recursos para que pudéssemos finalmente imitar o que as universidades americanas realmente têm de excelente: parcerias com o setor privado e desenvolvimento tecnológico. Mas isto significaria por em risco a Felicidade dos habitantes da Torre de Marfim que estão lá justamente para impedir o desenvolvimento do país.
*Anamaria Camargo, Mestre em Educação com foco em eLearning pela Universidade de Hull, é diretora do Instituto Liberdade e Justiça e líder do projeto Educação Sem Estado.